Qual o país “mais sofrido do mundo”? E países em guerra conseguiram algum “cessar-fogo” durante a pandemia?
Um dia desses de quarentena, tava eu perdida em 70.000 pensamentos (se bem que isso aí é todo dia
na quarentena, que tá dando mais tempo pra pensar), e me veio um
pensamento desses que fixam: será que a pandemia teria trazido um mínimo
“cessar-fogo” em algumas regiões em conflito no mundo?
Será que países que vivenciam guerras e conflitos brutais teriam ao menos reduzido um pouquinho
esses conflitos em razão da pandemia? Eu não fazia ideia (apesar da
notícia sobre o “reaquecimento” recente do conflito entre China e Índia
já nos dar alguma ideia) e fiquei curiosa num nível daqueles que você
pensa “se não souber isso não durmo hoje”, sabe como?
Fui perguntar pra quem sabia.
Sujeito sempre prestativo, que responde qualquer pergunta na mesma
hora – muito diferente de mim, desorganizada e desnaturada, que tô
levando em média 3 semanas pra ler as redes sociais. Se chama Google, me
amarro nele.
O dia em que ele falhou
Mas pela primeira vez na minha vida e talvez da vida do Google, em português, ele não soube me responder muito bem.

Encontrei poucas matérias sobre conflitos nesse momento específico
atual, a maioria sem detalhes, com não muito mais que 4 parágrafos.
Isso me fez pensar (“ih não, de novo“) como é
curioso que nós, brasileiros, gostamos bastante de apontar os EUA ou
países europeus como “etnocêntricos” e “autocentrados”. Reclamamos que
muitos por lá não sabem, por exemplo, que “brasileiros não falam espanhol”, ou que “a capital do Brasil não é Buenos Aires” (o Karnal faz uma reflexão muito boa sobre isso nesse livro, inclusive), mas a gente aqui sabe tão pouco sobre o resto do mundo.
E o oscar de “país mais sofrido” vai para…
E foi aí que, pesquisando mais um bocado sobre “houve algum
cessar-fogo – um ‘cessarzinho-de-foguinho’ que seja – na guerras civis
em curso durante a pandemia?”, eu descobri que a situação inclusive piorou em muitos.
Pra explicar como algo já horrível pode ficar pior, vou usar como
exemplo o Iêmen, que é considerado o país mais necessitado de ajuda
humanitária hoje.
Hoje, ninguém no Iêmen tá muito preocupado com a pandemia.
Fazendo um resumo porco e provavelmente impreciso da Guerra no Iêmen
(prometo bolar um maior depois): o conflito no país se dá, basicamente,
entre houthis (na maioria xiitas) VS sunitas. Pra engrossar o caldo da confusão: o Irã apoia os houthis (o Irã é xiita também) e a Arábia Saudita apoia os sunitas (a Arábia Saudita é sunita também).
Com a pandemia, a Arábia Saudita deu um “pause” nesse apoio aos sunitas, pra se dedicar às questões da pandemia no próprio país. E aí os houthis aproveitaram e tomaram mais as cidades.
Logo, nesse exato momento, não tem gente no Iêmen preocupada com o sobrecarregamento dos hospitais pela pandemia porque os hospitais do Iêmen já foram destruídos por bombas mesmo ou estão entubados de gente jogada nos chão dos corredores – obviamente não tem cama e alguns hospitais tem rombos nos seus tetos – por conta desses bombardeios, perseguições e conflitos violentos que perduram desde 2015.
Muitas pessoas do Iêmen seguem sem opção de “#ficaemcasa” porque, por
exemplo, um míssil caiu na casa de boa parte delas. E caiu
provavelmente arrancando algum membro, alguma vida ou levou mais um pai
de mais uma criança de 11 anos – que agora se tornou chefe de família
por ser a mais velha que restou viva entre os irmãos menores,
traumatizados e subnutridos.
E não são só eles que estão traumatizados e subnutridos: é 80% da população no Iêmen – infelizmente esse número tá certo, 80% – que depende de ajuda humanitária pra viver. SAP: é quase um país inteiro
sofrendo em níveis que eu não faço a menor ideia de como sejam. Há quem
diga que o Iêmen – um país que, inclusive, tem muita beleza e riqueza
cultural – está muito próximo de desaparecer.

Logo, a mortalidade do coronavírus no Iêmen
provavelmente seria de 80% mesmo, uma vez que pessoas subnutridas tem
menos chances de sobreviver até às infecções bem simples, algo causado
por “comer uma comida levemente azeda” – e muitos, na maioria dos dias,
não tem nem a azeda pra comer.
E vai ver o vírus nem se espalharia tanto lá por isso: além do fluxo de pessoas viajando pro Iêmen ser menor, claro, as pessoas morrem antes de transmitir.
E agora é a parte que nós, brasileiros (e pessoas de todas as
nacionalidades sem ser as iemenitas), ficamos pasmos: as pessoas no
Iêmen também tem glândula lacrimal, terminações nervosas e são
sencientes, logo, elas também choram, sentem dor e sofrem.
E pasmemos (2): elas também tem capacidade de fazer duas coisas ao mesmo tempo (às vezes até 12), logo, elas choram e sofrem enquanto
elas correm da casa desmoronando, sentem fome, tentam tirar os pais dos
escombros e carregam os filhos que perderam a perna com as poucas
forças que tem, porque não comem há dias e não recebem salários
(funcionários públicos e professores, por exemplo, estão sem receber
salário regular lá há anos), tudo ao mesmo tempo.
Devem ter mais de 7 milhões só lá chorando de soluçar agora, nesse exato minuto, por qualquer motivo que a gente não faz a menor ideia de como seja.

Enquanto acreditamos ser os únicos e maiores sofredores/perdedores do mundo com uma pandemia, ignorando o “pan” no
nome, muitos desses países que ignoramos, ou não compreendemos, ou não
fazemos um esforço pra compreender a história, não podem fazer campanha
de “lave sempre as mãos”, porque bombas destruíram encanamentos e agora
eles não tem acesso à água de forma tão simples (nunca tiveram, só piorou), como muitos de nós, que não só temos mais acesso à água, como às vezes podemos escolher se vamos lavar as mãos com sabonete líquido ou em barra (há ainda quem viva o profundo dilema entre escolher entre granado ou dove – “oh, céus, qual será mais cheiroso?”).
E a resposta pro país mais sofrido é: não faço a menor ideia, se você souber envia nos comentários. Só tenho a leve desconfiança que não somos nós.
[Se tiver interesse e condições de ajudar o Iêmen, esse é o link da WFP]
E o oscar de “país mais autocentrado” vai para…
Provavelmente somos tão concentrados em nossos umbigos quanto qualquer país:
não fazemos muita ideia do sofrimento imenso dos rohingyas no Myanmar
(eu sequer tenho certeza se escrevi os nomes “rohingya” e “Myanmar”
certo), da situação de mais de 30 milhões de curdos,
desse conflito no Iêmen e suas consequências brutais, e que dirá de
Mali, Burkina Faso, Líbia; em nossa maioria não compreendemos todos os
592.623.817 grupos que se combatem (e por que se combatem) na Síria e
arruínam (quando não tiram) a vida dos civis – e inclusive, por nem
sabermos quantos grupos são, arredondamos pra “592.623.817”; e, falando
em Síria, nem imaginamos que os ataques terroristas na Ucrânia superam os da própria Síria.
Escrevemos tranquilamente em nossos blogs enquanto blogueiros são presos por 10 anos e levam 1000 chibatadas até as costas sangrarem com uma plateia assistindo na Arábia Saudita por tecerem comentários que incomodaram o governo; não fazemos a menor ideia que homossexuais estão sendo fuzilados na Palestina agora mesmo, presos e condenados à morte no Irã; pessoas estão sendo presas por beber, meninas de 6 anos são sequestradas na China para casarem com filhos da família sequestradora no futuro, indianas são agredidas, mutiladas, deformadas ou assassinadas por terem filhas,
e não filhos. E nem precisaríamos ir tão longe: na nossa América do sul
mesmo (que inclusive amo bastante e vivo babando aqui), temos casos de
violações diárias de direitos humanos.
A explicação é meio simples: são oferecidas mais notícias do que se tem mais demanda. E você lembra a última vez que buscou “Iêmen” no google? Mas e “Estados Unidos”? E algum país da Europa? E notícias do seu país? E da sua cidade? E depois de fazer a conta de cada um: você ainda acha que o “defeito” (diria que tá mais pra “característica quase inevitável”) do “etnocentrismo” e “autocentrismo” é só de europeu e estadunidense?

E quando sabemos dessas coisas? Como agimos? Procuramos vilões, claro. Bora gastar a energia em procurar culpados ao invés de buscar soluções, vem comigo, “iupii”:
E o oscar de “país vilão” vai para…
Muitos acreditam que “o problema do mundo é a religião” (a alheia, claro, porque a nossa religião ou o nossa não-religião
ou absoluta descrença, julgamos como a única forma correta de ver o
mundo, afinal, somos os bonzões, os letrados, os sensatos, os sei lá,
somos o Goku da inteligência, os iluminados pelo esclarecimento
civilizatório ocidental, uhu, “como é bom ser superior, kamehameha”) –
que a religião é a culpada por todos os conflitos, e não que algumas pessoas – e não todas – interpretam as escrituras de sua religião de forma a gerarem esses conflitos.
E inclusive, uma minoria delas que faz isso. A maioria preferia
viver em paz, exatamente igual aos ateus, agnósticos ou pessoas sem
religião ou de qualquer outra religião que ainda não fizeram essa conta.

E, gênios civilizados que somos, quando tentamos combater o radicalismo, que parece ser o problema central em todos os maiores conflitos atuais, como agimos? Somos radicais em nossas generalizações, radicais em nossas exposições de ideias, e desmoralizamos a ponderação.

Também achamos que judeus são os vilões e árabes são os mocinhos – ou vice-versa – sem perceber que a história é muito mais complexa, que não fazemos ideia do que ambos os lados sentem e vivem, e que inclusive, essa percepção da posição de mocinho e vilão pode se alternar ao longo da história, não sendo tão clara e definitiva como muitos acreditam.
E claro, chamamos todos os descendentes de asiáticos de “japa”, até porque ignoramos a história de conflito (muitos deles que até hoje não foram plenamente resolvidos) entre países asiáticos, que torna essa equiparação ofensiva (e
nem precisaríamos saber da história: seria só lembrar que, como
brasileiros, não gostaríamos de ser confundidos com argentinos,
mexicanos, uruguaios, com a justificativa de que, afinal, “é tudo igual, tudo latino”).
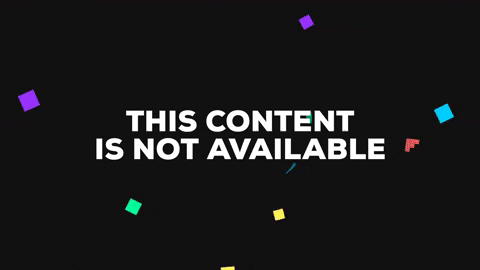
E o oscar de “país mocinho” vai para…
Não enxergamos qualquer possível “brasileirocentrismo” atualmente,
porque estamos muito ocupados nos sentindo o centro do mundo – afinal, somos mesmo o centro do nosso mundo – estamos ocupados definindo outros países (e pessoas, como não?) como mocinhos ou vilões, chamando os outros de civilizados ou bárbaros, de acordo com nossa perspectiva.
Até porque, não teria como ser diferente. Se sou Zé das Couves, como terei a perspectiva de Zé do Alface? A única forma seria ouvindo
o Zé do Alface – e mesmo assim, eu não teria a visão dele, porque ainda
sou eu. E imagina se vou fazer um negócio desse? Zé do Alface é o
vilão. Zé da Rúcula que é o herói.
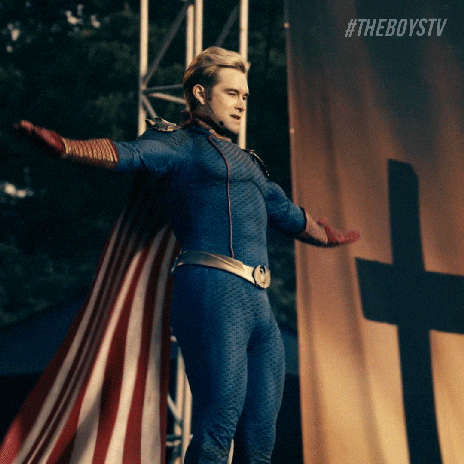
Em um mundo tão plural, tão gigante, tão absurdamente diferente a
cada km que se anda, de tantas visões possíveis, é estranho que a gente
tenha tanta certeza de tantas coisas. Que a gente não se questione “será
que tô certo?”, “será que só o outro é o vilão?”, “será que sou o
mocinho?”, “será que sou o monopolizador da bondade humana?” em momento
algum.
E a resposta pra “quem é o “mocinho” é: talvez ninguém e todo mundo.
Essas percepções se alternam ao longo da história. A gente pode ver,
em um único contexto, povos sendo subjugados e subjugando ao mesmo tempo. Sofrendo e fazendo sofrer. Fazendo o bem e o mal. Um exemplo que já escrevi sobre aqui
é o do Japão que sofreu com o expansionismo dos EUA e logo depois
invadiu países asiáticos de forma até mais grave – e mais tempo depois
já tava o Japão sofrendo de novo levando 2 bombas nucleares, olha que
surreal – e aí? Quem é mocinho? Quem é vilão? É rodízio? Alguém tá
medindo o sofrimento que determinados países infligem e são infligidos
com uma régua? Como que fica isso aí?
E o oscar de “o país mais polarizado” vai para…
De fato a gente parece que curte polarizar nosso mundo, criando uma
barreira entre o “bom” e “ruim”, “mocinho” e “vilão”, onde dificilmente a
gente admite que pode estar errado ou que, por mais certo que esteja,
poderia ponderar e tentar entender o outro lado – e aí sim, concluir
que realmente, o outro tá errado naquele momento (e cabe ressaltar o “naquele momento”, porque somos capazes de fazer coisas muito boas e muito ruins às vezes com um intervalo de tempo de só 5 minutos).
E a menos que você esteja presenciando alguém com uma bazuca matando
18 pessoas ou promovendo o genocídio com um cartaz, são raros os casos
em que a gente não tem condições de ouvir o outro. Só são muitos os momentos em que a gente só não quer.
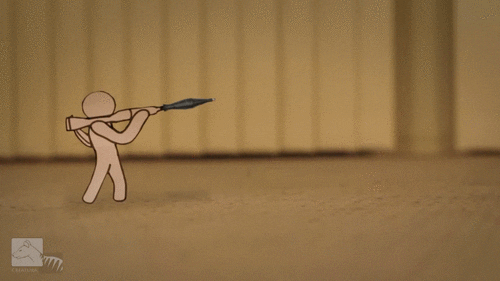
Reclamamos do radicalismo e do extremismo, e seguimos, nós mesmos, eu
daqui, você daí, aplicando um olhar cada vez mais extremo pras
situações, potencializado pela pandemia estressante (ou o estresse
pandêmico). Das coisas pequenas às grandes: pessoas se julgam superiores
ou inferiores até por quem a outra votou no Big Brother (ou se a outra assistiu Big Brother, porque aí você acredita que é superior porque escolheu outra forma de entretenimento, tipo assistir série inglesa).
A pandemia tem nos mostrado bastante essa falta de paciência com as
diferenças, e às vezes nos bate aquele receio que, se as pessoas não
morrerem ou se matarem em razão de doença, fome ou desespero, vão acabar
se matando com cabos de panela em razão de discussões que escalam cada
vez mais rapidamente pra agressão verbal ou física.

E bora lembrar de um exemplo esdrúxulo e absolutamente exagerado aqui, de gente que provavelmente se achava muito certa e era indisposta a ceder: Hitler (sempre falta criatividade nesses exemplos de “grandes cometedores de erros da humanidade”, né, foi mal) amava a arte e os animais enquanto ironicamente destinava aos judeus um destino tão cruel quanto os de animais que viram vitela e foie gras; Stalin jurava que o seu regime era destinado à salvação da população sofrida e faminta enquanto promovia um genocídio famélico na Ucrânia e ainda mandava civis pra morrerem de fome na Sibéria. Ninguém avisou esses caras que eles tavam errados
– quem tentou avisar eles deram “unfollow” numa versão mais radical,
claro. Ninguém vai te avisar também – quem tentar avisar você dá
unfollow – na forma menos radical, espero – ou block.
Com o tempo a gente só se rodeia de gente (quanto “gente” nessa frase) pra bater palma pras nossas falas, e nem sabemos
mais quando elas são incoerentes, quando nossos discursos não batem
mais com nossas ações, quando nossa intenção é maculada pelo forma de
atingi-la, porque ninguém vai ter coragem de falar.

E novamente, isso não é um problema só dos brasileiros. Se acreditássemos que só brasileiros vivem um momento de polarização, de falta de vontade pra ouvir e radicalização de todos os lados, estaríamos incorrendo novamente no autocentrismo, de achar que só nós
lidamos com esses problemas – e também de ignorar que temos um mundo
quase inteiro vivendo uma onda de radicalismo de todos os lados
possíveis (tem bomba vindo da esquerda, da direita, de cima e de baixo –
em alguns locais literalmente). Se nós, “brasileiros”, não monopolizamos as virtudes, também não monopolizamos os defeitos e nem os problemas desse mundo.
Então talvez também já possamos parar de afirmar com tanta convicção
que “brasileiro é burro/ brasileiro é polarizado/ brasileiro é
irresponsável/ brasileiro é pior que o país X”. Feliz ou infelizmente,
defeitos (e qualidades) não são licitados em cota de exclusividade pro Brasil ou qualquer país específico.
Conclusão
O que concluo nesse texto gigante é que, na verdade, acho difícil concluir qualquer coisa, eu só queria escrever mesmo.

Se há algo que sei lá quantos anos de história da humanidade
nos mostra, novamente, é que na vida não há mocinhos e vilões de forma
tão clara e definitiva como nos filmes (e até o mocinho do filme deve
ter feito uma coisa pavorosa e o vilão fez algo maneiríssimo, isso só
não foi mostrado com ênfase).
É mais provável que todo mundo tenha muito a aprender com a história
do outro, e que todo sofrimento deva ser levado em consideração, pra que
a gente possa impedir a repetição. Que todo sucesso seja analisado, pra
que a gente possa compreender os caminhos até se chegar nele.
Além disso, a única certeza que defendo, no entanto, é que o Brasil tem os melhores memes
e a melhor culinária, e isso não tá pra discussão. Aqui tem paçoca,
brigadeiro, queijo com goiabada e pão de queijo. Além dos comerciais do
guaraná Dolly – o sabor brasileiro. A única coisa que nos falta é
ponderação – mas isso falta a todos nós, humanos, e não “nós, brasileiros“.
E é isso. Acabei de escrever umas 3000 palavras sobre tudo e nada ao
mesmo tempo. Até o próximo post em que pode ser que eu fale do Iêmen ou
de uma receita de pudim, ou do Curdistão ou de paçoca.
[Se sentir vontade de ajudar o Iêmen e tiver condições, doando ou divulgando, aqui tem o link da WFP pra fazer da forma mais rápida possível].
Nenhum comentário:
Postar um comentário